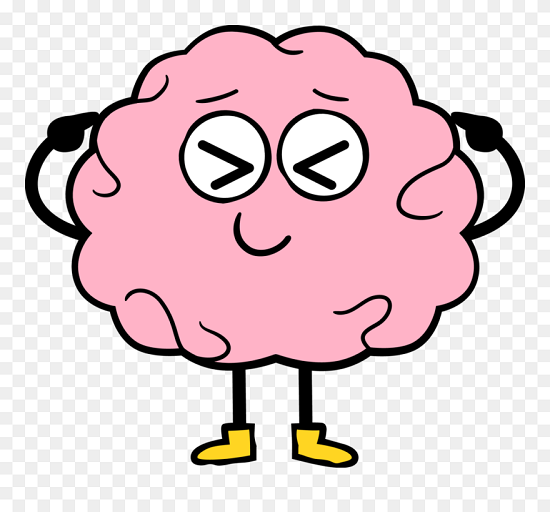Flávio de Castro
Arquiteto e urbanista | fjrcastro@gmail.com.br
Na década de 1930, Sete Lagoas contava com pouco mais de 10 mil habitantes em sua área urbana. Era menor, por exemplo, do que Papagaios é hoje. Tinha uma vida absolutamente agrária: não apenas porque toda sua atividade urbana dependia da atividade rural, como também porque, no campo, estava a maior parte de sua população, quase o dobro da que vivia na cidade. Era, assim, uma cidade pequena entre a nova capital do estado, Belo Horizonte, que ainda não tinha traços metropolitanos – era menor do que Sete Lagoas é atualmente – e Curvelo. Cidade por cidade, Sete Lagoas e Curvelo, pouco se diferenciavam, mas a pujança da economia rural curvelana sobrepunha-se à nossa.As narrativas sobre a urbanização brasileira, com razão, cravam essa década como aquela em que se iniciou a conversão do país de um mundo agrário em um mundo urbano-industrial. No entanto, desde a metade do século anterior, a riqueza acumulada no campo já vinha migrando para as cidades ou para perto delas, onde encontrava novas e melhores oportunidades de negócio. Entre nós, essa movimentação se deu, em escala elevada, na formação de capital industrial, como no caso das fábricas têxteis que importaram maquinaria moderna, típica da grande indústria, ainda no final do século XIX, e na formação de capital financeiro, como no caso do Banco Agrícola, nas primeiras décadas do século XX. Mas se deu também por uma multiplicidade de iniciativas menores, de indústrias que ainda guardavam, no seu processo produtivo e em suas instalações, muito da manufatura. Foi nesse contexto, que parecia anunciar um tempo novo, que nasceu a fábrica de farinha, nos anos 30, ou a fábrica de macarrão, na década anterior, em Sete Lagoas, ou a fábrica de óleo de caroço de algodão, dez anos depois, em Curvelo.
Ao que parece, foram anos efervescentes. A Rede Ferroviária havia instalado, fazia pouquíssimo tempo, a sua oficina em Sete Lagoas. Essa oficina deu início à tradição em mecânica que a cidade viria a ter, reforçada pela habilidade dos imigrantes italianos. O geógrafo baiano Milton Santos diria que Sete Lagoas evoluiu de um meio natural para um meio técnico, a era da maquinaria.

Não eram máquinas em que você colocava a matéria-prima, o milho, numa ponta, apertava um botão e ela cuspia um saco de farinha, pronto e embalado, do outro lado. Nada disso. Até a última fornada, cada placa de beiju e cada tanto de pixé resultavam do talento humano de manter aquelas máquinas extraordinárias em pleno funcionamento, por décadas e décadas, e do talento do operário de saber o ponto exato da torrefação. As máquinas não eram as responsáveis exclusivas pela produção, mas apenas parte de uma técnica tradicional e familiar de produção de diferentes tipos de farinhas de milho. Na prateleira do supermercado, uma farinha de beiju da FARSETE e outra, de outro fornecedor, pareciam ser o mesmo produto, diferenciados apenas pelo preço. Não eram; eram dois produtos absolutamente diferentes. Mais do que isso: eram duas épocas, duas culturas, duas técnicas, dois sentidos de vida bastante distintos.
A fábrica de farinha foi criada, na década de 1930, no mesmo lugar de sempre, pelo senhor Monteiro. Em 1938, ele a vendeu ao meu avô Jaime, recém chegado com a família da Zona da Mata, e seus dois primos, Silvio e Moacir Sales. O senhor Monteiro seguiu cuidando e fazendo história com sua indústria de doces.
As minhas lembranças da fábrica são de 30 anos depois. Já era apenas de vô Jaime, que já havia construído sua casa ao lado. Quase toda a quadra era seu sítio, onde desenvolvia uma economia familiar: além da casa e da fábrica, o pomar, os galpões de criação de galinha, a rampa das bananeiras e, lá embaixo, à beira do córrego, o pasto e o curral de vacas. A cidade era uma extensão do campo.
Ainda menino, quando li Os meninos da Rua Paulo, do húngaro Ferenc Molnár, numa pequena edição de bolso, na minha mente, não conseguia ambientar as brigas de rua entre o grupo do pequeno Nemecsek e a turma adversária senão nos fundos da fábrica de vô, entre as suas pilhas de lenha e seu cheiro peculiar de milho molhado. Um lugar mítico, imaginário, aventuresco para uma cabeça infantil. Talvez, quem tenha lido esse livro clássico – sempre na tradução de Paulo Rónai, com revisão de Aurélio Buarque de Holanda, em qualquer de suas edições em português – possa entender o mistério daquele lugar e os mistérios de seu dono, silenciosamente, dia a dia, quebrando a cabeça em um detalhe para aperfeiçoamento de seu engenhoso maquinário ou, a cada fim de tarde, afiando as navalhas das canjiqueiras no velho esmeril.
Impossível dissociar a fábrica de farinha de Jaime Branco. Por 45 anos ininterruptos, ele passou a vida entre a fábrica e a casa, bem ao lado. Como também é impossível dissociar a fábrica de Jayme e Breno, meus irmãos, que o sucederam em 1983. O tempo antigo sempre parece eterno e o tempo presente, um soluço: na realidade Jayme e Breno comandaram a FARSETE por quase 40 anos, quase o mesmo tempo de vô, cumprindo um ritual que guardava muito do passado: iguais habilidades no avô e nos netos em dar manutenção em um maquinário originalíssimo, zelar por conhecidas praças de vendas e buscar novas praças capazes de reconhecer a peculiaridade de um produto tão tradicional.
Em quase 90 anos, tudo mudou. A Sete Lagoas de hoje equivale a vinte Sete Lagoas de então. Depois das pequenas indústrias alimentícias, ela viu o tempo das cerâmicas, depois do laticínio, depois da primeira fábrica urbana de tecidos, depois, já na segunda metade do século, da explosão da indústria do ferro-gusa e da economia do carvão. Foi essa história épica das gentes e dos capitais, a maioria deles locais e sobretudo regionais, que a conformaram em uma cidade média cobiçada, às vésperas do século XXI, pelo grande capital transnacional.
A globalização não parece ir além da conversão de lugares, pessoas e sentidos comunitários de vida em meros mercados. E como parece ser próprio dessa modernidade globalizada, ela se instala, sempre, apagando os rastros do passado, os rastros da história. Sete Lagoas deixou de ser uma cidade do sertão mineiro, uma cidade que cresceu, em muito, graças ao chão e às matas do cerrado, a cidade de Piriás, para se transformar, pretensamente, numa cidade cosmopolita, ou para quem se lembra da reportagem da revista Veja, num sonhado balneário industrial de consumo sofisticado, à beira de seus lagos.
Poucas empresas do seu tempo conseguiram vencer esse século de mudanças tão intensas. A FARSETE desligou a velha torradeira de beiju, apagou as luzes e cerrou as portas, pela última vez, ostentando o número mais antigo no cadastro de ISS da Prefeitura de Sete Lagoas. Os seus produtos, a forma cultural de produzir, o sabor e o cheiro, as formas de apropriação social – ou seja, os hábitos de se usar a rara farinha de pixé, por exemplo – foram entrando em desuso, ao longo do tempo. Essa tradição foi perdendo força frente às modernas práticas de consumo, aos novos padrões de competição, às amplas escalas de mercado, ao grande porte de capitais, mais e mais, inalcançáveis. De forma inexorável, a fábrica de farinha chegou ao fim; é que sua época também chegou ao fim!